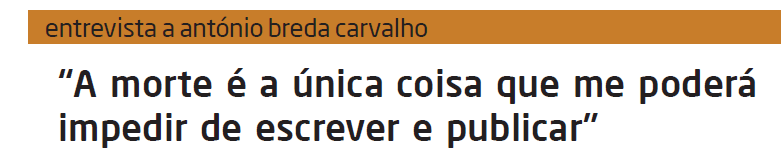Em
março de 1945, numa manhã cinzenta e fria, o chefe interrompeu o ofício que eu
datilografava na pesada Olympia, para me dizer que estava na hora de lhe
mostrar o que tinha aprendido no curso. Não foi bem assim que falou, lembro-me
tão claramente como a água dos poços desse tempo. O que disse, literalmente,
foi:
— Menino,
prepara-te para a tua prova de fogo.
O
inspetor Hélio Gaspar apoiava-se na autoridade dos seus sessenta anos, e muito
mais na graduação profissional, igualzinha à proeminente barriga, para me
tratar paternalmente. Aliás, todos os estagiários eram sujeitos a esta condição
de meninos imberbes. Depois, admitidos ao serviço da Polícia de Investigação
Criminal, teriam direito a um tratamento mais adulto, com a palavra rapaz a marcar a subida de posto.
— Até
que enfim! —
exclamei, quase saltando da cadeira. De pé, mais interessado na notícia do que
nos primeiros chuviscos que faziam cócegas na vidraça da janela por detrás das
costas largas do chefe, eu já parecia um verdadeiro polícia a espremer um
criminoso. — Chefe,
diga tudo o que sabe!
— Aqui,
quem dá ordens e decide sou eu! Digo quando entender que devo dizer.
Ordenou-me
que terminasse rapidamente o serviço que tinha em mãos, pois dentro de dez
minutos teríamos uma viagem de automóvel pela frente. Sentei-me, obediente, e
acabei de redigir o ofício com umas marteladas nervosas no teclado da robusta
Olympia. Sentia-me entusiasmado com o meu primeiro caso e bastante curioso
relativamente à sua natureza. Política? Roubo? Crime? O inspetor Hélio Gaspar
tinha abandonado o gabinete e voltara no preciso momento em que eu vestia o
sobretudo, precavendo-me contra a chuva grossa que caía ruidosamente. Sorriu,
satisfeito com a minha prontidão, e soltou um «vamos lá, menino!».
O
Volkswagen pegou à primeira, e deixei-o carburar uns goles de gasolina; depois
acionei o limpa-para-brisas e perguntei:
— Chefe,
para onde é a ida?
— Cantanhede.
Não
era viagem cansativa percorrer os quilómetros que separavam Coimbra dessa vila.
Conhecia Cantanhede, de passagem a caminho dos palheiros de Mira, durante os domingos
de verão passados na praia com os meus pais e irmãs. Quando o carocha passou a Geria, apanhei a
estrada de Ançã. A chuva carregava cada vez mais, tanto como o céu escuro, e
tive o cuidado de acender os faróis e de aumentar a velocidade do
limpa-para-brisas, ao contrário do andamento do carro. O meu chefe ia todo
lorde no banco do lado: as pernas escancaradas, as costas repousadas no banco
quase oblíquo e a barriga bojuda a bailar ao sabor da trepidação do carocha.
— Está
um tempo de caca! —
queixou-se, os olhos colados ao vidro. Este inspetor nunca dizia: «Está um
tempo de merda!» Era sempre: «Está um tempo de caca!», que servia para todas as
estações do ano.
E
logo borrou a limpidez da palavra caca
e do ambiente com uma bufa silenciosa mas mortífera. Apressei-me a descer o
vidro, apenas uma fresta de alívio. Espreitei-lhe a pança pelo canto do olho. Haveria
mais borrasca intestinal? Aquilo era uma autêntica botija de gás, daquelas
redondinhas, de treze quilos domésticos. Alguns segundos depois, quando o
cheiro invadiu todo o compartimento, ouvi a frase sagrada:
— Este
gás é hélio. Um dos melhores! —
E riu-se desbragadamente, fazendo jus à alcunha de Inspetor Gás, ao mesmo tempo que acendia um cigarro.
Que
rico dia de batismo policial: uma viagem debaixo de um temporal tremendo e uma
asfixia de cheiros estonteantes! Aproveitei a sua boa-disposição para atirar o
barro à parede:
— Então,
chefe, qual é o problema?
Largou
duas fumaças. Tossi. Cofiou a pera grisalha e condescendeu:
— Assassínio
— elucidou,
laconicamente.
Assobiei.
Uma estreia honrosa para mim. Este estagiário iria mostrar-lhe quão injusto era
o tratamento por menino.
— Há
suspeitos?
Não
havia. E mais uma névoa de fumo para cima de mim, que nada me aborreceu. Era
bom que não houvesse suspeitos, teria mais possibilidades de mostrar o meu faro
inato para casos detectivescos.
— De
casos difíceis é que eu gosto, chefe.
— Ainda
és um menino, não te esqueças — disparou à queima-roupa. Pior
do que gás hélio!
— Por
pouco tempo, chefe —
atrevi-me a responder.
Esboçou
um sorriso. Desceu o vidro, um palmo, e deixou cair o coto do cigarro na
estrada encharcada.
— Não
há suspeitos —
explicou — porque o
autor do crime está identificado.
Que
grande desilusão! Era, realmente, um serviço para meninos. Um caso tão difícil como bater um ofício na monocórdica
Olympia.
— Chama
a isto uma prova de fogo, chefe? — reagi, visivelmente mal-humorado.
— Claro!
— Vejo
tudo escuro à minha frente!
Riu-se
e ajeitou-se no banco, cujas molas rangeram.
— A
tua função é conseguir uma prova que incrimine o gajo. Pelas informações que
chegaram à delegação, é óbvio que só pode ter sido esse gajo. Mas precisamos de
uma prova irrefutável. É aqui que tu entras: o teu primeiro teste.
Gajo era a segunda palavra mais
usada por ele, a seguir a menino. O
caso começava a agradar-me; tanto como as condições meteorológicas: a chuva
amainava, as nuvens escuras dissipavam-se e a cor da manhã abria-se à frente do
Volkswagen. Isto coincidiu com a chegada aos arrabaldes de Cantanhede.
— E
agora, chefe? — perguntei
ao aproximar-me do centro da vila.
— Sempre
em frente.
— Para
a praia de Mira, chefe? Vim desprevenido, não trouxe calções de banho — brinquei com a situação. O
inspetor simpatizava com as minhas brincadeiras de menino. Riu-se à farta. E depois arrependi-me da piada porque ele
abriu a botija de gás.
— Está
um tempo de caca —
lamentou-se.
Segui
em frente, convencido de que o destino era a vila de Mira ou a praia. Mas logo
corrigiu:
— Vai
em frente, e daqui a uns quilómetros cortas à esquerda, quando encontrares uma
placa virada para São Caetano.
— E
se a placa estiver ao contrário, chefe?
Olhou
para mim, sem resposta imediata. O menino
tinha-o encurralado. Desceu o vidro da janela, desta vez até ao limite, meteu a
careca de fora e cuspiu contra a deslocação do ar.
— Se
a placa estiver virada ao contrário, lixamos o gajo que fez isso.
Fui
obrigado a rir-me, por solidariedade profissional. Alguns quilómetros depois,
suspendi o paleio, preso a uma ideia que me assaltara a mente, no momento em
que avistei ao fundo uma placa que indicava o lugar de Febres.
— Ó
chefe, dá para fazer um desvio? —
apontei a placa e continuei: — Gostava
de conhecer esse lugar.
— Tens
tempo. A vítima é um gajo daí.
— E
vamos para São Caetano? Não percebo, sinceramente.
— Vamos
para o local do crime, primeiro.
Soltei
um ah de surpresa. E ele surpreendeu-me também.
— O
que tu gostavas de conhecer em Febres sei eu bem.
Desacelerei,
pasmado com a observação, e obrigado a isso por ter atingido o ponto de viragem
para São Caetano. Pedi explicações, mas só depois de me ter posto, inutilmente,
a adivinhar. A resposta chegou-me aos ouvidos como uma cuspidela:
— Queres
conhecer a casa do escritor que andas a ler.
— Ando
a ler tantos escritores, chefe — respondi,
mortalmente atingido, intrigado com o conhecimento que ele tinha da minha vida
privada.
— Sim,
menino. Infelizmente, andas a ler muitos autores perigosos.
— Como
é que o chefe sabe disso? —
sondei, a medo.
— Muitos
anos nesta profissão. Por isso é que sou chefe, e tu, menino.
Eu
andava a ler autores perigosos sem saber. Lia Alves Redol, Manuel da Fonseca,
Mário Dionísio, José Gomes Ferreira … Desafiei-o: o que havia de perigoso
nestes escritores?
— Literatura
subversiva, menino. Escritores comunistas. O comunismo é o inimigo número um da
Nação. Foge dele, se quiseres ser alguém com futuro.
Retorqui
que não via nada de mal nestes escritores. Respondeu-me, ironicamente, que por
não haver qualquer perigo é que o livro que eu andava a ler tinha sido proibido
pela censura. Senti-me completamente nu. Um bebé indefeso, a balbuciar:
— Que
livro, chefe?
— O
romance Alcateia, do Carlos de
Oliveira. Por isso é que estás tão interessado em ir a Febres. Queres conhecer
a casa onde ele viveu com os pais.
Fiquei boquiaberto. Ele conhecia a minha vida particular e
os meus pensamentos tanto quanto eu?
— Ó
chefe, o meu interesse é meramente literário. Eu nem sabia que o livro estava
carimbado pela censura. Isso aconteceu, de certeza, depois de o ter comprado na
Coimbra Editora, no ano passado. Eu cá não percebo nada de política.
— É
bom que não percebas. Pensa bem na tua vida. Estou de olho em cima de ti.
E
com esta ameaça chegámos à povoação de São Caetano, onde, por indicação dele,
estacionei o carocha junto ao largo
da capela. Saiu do carro. Não chovia, mas senti o vento frio no nariz. Apeado,
fez-me sinal de espera com a mão sapuda, enquanto se dirigia a um gandarês que
conduzia uma carroça. Percebi que lhe perguntava qualquer coisa, pois o homem
virou-se para trás e apontou a estrada com a mão calejada de trabalho. Hélio
Gaspar regressou ao automóvel e mandou-me arrancar, sempre em frente. Obedeci,
calado, ainda irritado com o raio da conversa sobre os escritores comunistas. A
estrada, de terra batida e cada vez mais estreita, enfiava-se pelo coração dos
pinheirais. Passámos por uma pequeníssima povoação perdida no meio do mato, não
mais de cinco casais no fim do mundo. Ao longe, numa zona descampada, terra de
semeadura, avistava-se um charco. Toda esta paisagem me era estranha, por estar
tão habituado à vida citadina. Comecei a ficar impaciente e perguntei-lhe se
faltava muito.
— Corujeira!
Sempre em frente — esclareceu,
olhando o exterior, ao mesmo tempo que murmurava: — Está mesmo um tempo de caca!
Parámos,
finalmente, numa aldeia que supusemos ser a referida Corujeira, pela dimensão
deste lugar em relação aos casebres que deixáramos para trás. Entrámos na
taberna, ao pé do largo à beira da estrada, e o meu chefe, saudando a mulher
embrulhada nuns trapos pretos, por detrás de um balcão de madeira tingido de
vinho, confirmou, primeiro, o nome da terra, e depois perguntou-lhe se sabia
alguma coisa do ourives morto. Tratava-se de um ourives, e só nesse momento o
meu chefe o dizia, não a mim, mas a uma taberneira. A mulher esbugalhou os
olhos (deve ter deduzido a nossa profissão), muito mais a boca desdentada, e
despejou o pouco que sabia do acontecimento dessa manhã.
— Uma
desgraça, senhores! Deus o tenha em paz!
A
pobre mulher não desembocava informações concretas, apenas sentimentos inócuos
em catadupa, e o Inspetor Gás teve de
lhe escorropichar toda a saliva até conseguir apurar o caminho para a quinta da
Murteira. Saímos da taberna, depois de termos emborcado dois tintos, remédio
que o meu chefe garantiu ser eficaz contra o frio, apesar de me ter arrepiado
todo por dentro.
Fomos
a pé dali à quinta, a fazer o mapeamento do terreno, quando subitamente nos
deparámos com um magnífico solar que se escondia por detrás de um maciço de
árvores, provavelmente murtas. O meu chefe assobiou. Quem diria? Quem diria
que, numa terreola destas, havia uma casa majestosa? O acesso ao eirado era
direto, sem cerca ou portão a impedir a passagem, a não ser o ladrar assanhado
de três cães que, felizmente para nós, se encontravam presos por correntes. O
forte alarido dos cães devia funcionar como sino, porque a porta principal
entreabriu-se e uma cabeça coberta por uma touca de cozinheira espreitou-nos, e
logo desapareceu.
Ficámos
parados, fora do alcance dos cães, à espera de que alguém nos viesse receber, o
que veio a acontecer passados dois minutos. Era um rapaz com ar aristocrático,
que, depois da nossa identificação, se apresentou como neto do barão da
Murteira, e exclamou:
— Ah,
vêm por causa do ourives morto!
E mais disse, sem arredarmos pé do mesmo
sítio, que os pais e o avô se encontravam ausentes, em viagem demorada por
Lisboa, onde tinham ido tratar de assuntos familiares. Tirou do bolso uma caixa
de cigarrilhas, e duas delas ficaram a arder, uma na boca do inspetor Gaspar e
outra na do aristocrata, que entretanto anunciara chamar-se Alexandre, sem dom, frisou, porque naquela casa só o
seu avô tinha o privilégio de ter título nobiliárquico. Disse isto com um riso
cínico, segurando a cigarrilha com a mão esquerda. E a voz dele tornou-se mole
e triste, quando, interrogado pelo chefe acerca do autor do telefonema para o
posto da GNR de Mira, assumiu ter sido ele mesmo a tomar essa diligência, após
o caseiro da quinta, o Casimiro, ter chegado ali, esbaforido, com as botas e as
calças enlameadas, a dar conta da sinistra descoberta: o Júlio da Moita, ourives
ambulante de Febres, boiava na água do poço grande.
Por
instinto, sem algum motivo especial, olhei o meu chefe nos olhos, e ele
aproveitou o ensejo para me comunicar uma decisão que me deixou incrédulo:
— Tenho
uns assuntos a tratar em Aveiro. Volto depois do almoço. O caso está por tua
conta.
Despediu-se
do Alexandre e abalou pelo caminho bordejado de vegetação, deixando-me
impiedosamente desamparado como um funâmbulo inexperiente. Fiquei a vê-lo, uma
forma airosa de ganhar algum tempo para delinear mentalmente um programa de
ação. E a primeira ideia que me ocorreu foi perguntar ao meu interlocutor onde
se encontrava o corpo da vítima.
— Ao
pé do poço grande. Por minha decisão, o caseiro e alguns homens da quinta
retiraram o corpo da água. Aposto que custou menos aos meus homens tirar o
ourives do poço do que ao assassino matá-lo.
Achei
interessante esta comparação e indaguei, com um tom de voz bastante policial, o
fundamento da afirmação. Ele esmagou a cigarrilha com a biqueira do sapato de
couro, agasalhou as mãos nos bolsos da samarra com gola de raposa, imitando as
minhas mãos nos bolsos do sobretudo, e respondeu, com displicência:
— É
elementar: nesta altura do ano, o poço grande enche sempre.
— Quer
então dizer que não esteve nesse local?
— Claro
que não! Acha-me com cara de campónio?
O
aristocrata sem dom queria morder-me
as canelas.
— Se
não esteve lá, nem viu o corpo, como sabe que foi crime? É bruxo? — E, antes de ter tempo de reação,
rachei-o, com voz destemida: — Nem
imagina o jeito que dava à Polícia de Investigação Criminal um bruxo. Muito
melhor do que um cão treinado.
Que
pena o chefe não ter assistido a esta resposta de antologia!
O
jovem Alexandre, talvez da minha idade, estremeceu e fixou-me o olhar por
instantes. Acendeu outra cigarrilha, demoradamente, a fazer de propósito, e só
então se justificou:
— O
caseiro, o Casimiro, disse-me que o infeliz tem uma mossa na cabeça.
O
autor do crime tinha sido esperto: a água lava todas as provas; assim, o crime
não tinha assinatura. Andei alguns passos, pensativo, também para aquecer os pés
e afastar-me dos cães que pareciam mais próximos de mim. A empregada
espreitava-nos por detrás da cortina da janela. O aristocrata não tinha vontade
de me convidar para um café quente, especado no terreiro como um campónio; ou
talvez fosse eu o campónio aos olhos dele. Era inevitável inquiri-lo:
— Não
entendo uma coisa. Explique-me como se eu fosse um campónio: não esteve no
local do crime e não viu o corpo; então, como sabe quem foi o assassino?
— Ouviu-me
dizer isso? — desafiou-me,
arrogante.
— De
facto, não ouvi. Mas não foi você que ligou para a GNR de Mira? É que o
inspetor Gaspar já sabe quem matou quem.
— Eu
não disse isso —
redarguiu com um tom sobranceiro. — Eu disse que estava desconfiado do filho do Manel Sorna. É
muito diferente, não acha?
— Acho
que me deve explicar essa desconfiança.
E
desenrolou a teoria da pobreza que instiga o instinto à prática do crime para
alcançar a riqueza fácil. A mala verde do ourives cheia de ouro era a esperança
de uma vida farta.
Começava
a sentir-me desiludido com o chefe. E era tempo perdido continuar a inquirição.
Era poço sem água. Olhei o relógio. Ainda tinha tempo de dar um salto ao poço
grande antes do almoço. Talvez uma barrigada de fome até à chegada do chefe.
Pedi ao aristocrata emproado que me arranjasse umas galochas, por amor aos
sapatos que eu calçava. E pedi-lhe, também, em tom imperativo, que me
acompanhasse ao local do crime. Pareceu satisfeito com a minha decisão, pois
declarou que tinha muita curiosidade em saber como se investiga um crime.
Não
chovia, felizmente, e o vento frio reduzira-se a um sopro cansado. Percorri
caminhos vicinais, carreiros de cabras e de burricos. Alexandre gabava-se de pertencerem
todas essas terras em redor à quinta da Murteira.
— A
terra e tudo o que nela mexe, desde os bichinhos às pessoas — acrescentou, inchado de
fidalguia.
Absorvi
a imagem agreste dos campos de cultivo, terrenos afogados e outros em pousio
invernoso. E espantei-me com a corajosa tenacidade de humildes camponeses teimando
em arrancar da terra o milagre do sustento. Vidas secas encharcadas no chão da
fome. E chegou-me à memória a abertura do romance Casa na Duna: «Na gândara há
aldeolas ermas, esquecidas entre pinhais, no fim do mundo. Nelas vivem homens
semeando e colhendo, quando o estio poupa as espigas e o inverno não desaba em
chuva e lama. Porque então são ramagens torcidas, barrancos, solidão, naquelas
terras pobres.» Saberia o inspetor Gaspar que eu já tinha lido este romance
de Carlos de Oliveira? E se esta era a realidade do chão português, exposto aos
olhos do mundo, que crime político cometia a literatura que nesta paisagem
física e humana se inspirava? Porquê tanto medo da arte? Respostas que a minha
idade e a minha experiência de vida ainda não alcançavam, apesar de ser um
estagiário da PIC.
Chegámos
ao poço grande, imponente com a nora ao centro, mergulhada no espelho de água
que transbordava. Cumprimentei o agente da GNR e o camponês, enquanto o
Alexandre, ignorando-os, se debruçou sobre uma capa de oleado e destapou o
cadáver. Uma papa de sangue alastrava, mais coalhada no rombo visível no
parietal direito, sinal da forte pancada de que fora vítima. O infeliz estava
morto e limpo de vestígios forenses, já não tinha qualquer utilidade para a
investigação. Disse ao GNR para diligenciar a remoção do cadáver. Nesta altura,
o neto do barão da Murteira, apontando um casebre à distância de uns seiscentos
metros, informou-me de que era a habitação dos Sorna. Perguntou ao caseiro, o
homem que fizera companhia ao agente, se tinha visto o Arménio Sorna. Resposta
negativa. E logo me sugeriu uma visita a essa gente; de certeza que uma busca
aturada, mesmo sendo como agulha em palheiro, seria bem-sucedida com a
descoberta de uma prova irrefutável. E eu teria ainda a possibilidade de espremer
a verdade ao Arménio Sorna com uns açoites bem dados.
Sem
comentários, fingindo não o ter ouvido, encaminhei-me para o casebre, com eles
a seguir-me como dois cães rafeiros. O casebre era a expressão da mais extrema
pobreza: adobos em cima de adobos a segurarem uma porta e uma janela. A
habitação prolongava-se por um alpendre e por currais. Bati à porta. Uma, duas
vezes. Abriu-se devagar, a medo, e uma moça assomou à minha frente. Tive
dificuldade em ocultar o meu espanto. Sem palavras, extasiava-me a olhar a
figura grácil que me enchia os olhos. A indumentária era simples e asseada; mas
o verdadeiro encanto era a elegância corporal e o rosto trigueiro, no qual
resplandecia uma beleza indizível que eu nunca vira na minha vida. Uma beleza
que se mantinha intacta apesar das lágrimas que lhe escorriam pelas faces.
Associei o choro ao ourives louro, jovem como ela, e depressa concluí que junto
ao poço jazia o amor da sua vida. Apresentei-me e pedi educadamente para fazer
umas buscas, depois de ela ter dito que os pais andavam a trabalhar no campo e
que o irmão tinha ido a Febres, de bicicleta, dar a triste notícia aos
familiares do seu namorado.
Vasculhei
o interior da pobre habitação enquanto os outros, como furões, se infiltraram
nos anexos. Nada descobri. Entabulei conversa com a moça, Olinda de sua graça.
De queixume em queixume, de lágrima em lágrima, lamentou o azar do namorado, ourives
de Febres, ambulante no negócio de compra e venda de ouro; e também o seu azar,
que dele só lhe restava o anel que tinha no dedo, prenda do último aniversário.
E que não pensasse ele que ia ceder aos seus desejos; nem morta! Nesta
passagem, fiquei com o pensamento baralhado. O que Olinda afirmava não fazia
qualquer sentido. Como poderia ceder ao desejo de um cadáver? Teria ficado
tresloucada com o desgosto?
— Nunca
serei do Alexandre, nem coberto com todo o ouro do mundo!
Terminou
a frase no instante em que o aristocrata chegava até nós, eufórico, sorridente,
com uma mala verde nas mãos.
— Aqui
está a prova! — E
ofereceu-me a mala como se fosse um troféu de caça.
Coloquei-a
em cima de uma cadeira, levantei a tampa e examinei minuciosamente o interior
vazio e amplo, cujos cartões haviam desaparecido, assim como todas as peças de
ouro e prata: anéis, pulseiras, alianças, fios, correntes, relógios. Verifiquei
que a mala era feita de folha-de-flandres. E
descobri, pormenor importantíssimo, uma pequena mancha de sangue a macular o lastro.
Meti o nariz no fundo da mala e cheirei a nódoa: sangue fresco.
— Então, precisa de mais provas?
— Não,
isto é tudo o que preciso. Vamos embora. Está na hora do almoço.
Fizemos
o caminho de volta à quinta. Quando passámos pelo poço grande, já não havia
cadáver; apenas um chapéu, sujo de lama, esquecido no chão, e a bicicleta do
ourives tombada. Alexandre mostrou-se muito solícito. No solar, depois de eu
calçar os sapatos, quis que o acompanhasse à mesa. Recusei. Fui direto à
taberna, onde me consolei com uns carapaus em molho escabeche, broa de milho e um
pichel de tinto. No fim, pedi à velhota que me fizesse uma chávena de café bem
quente. Entretanto, fui ordenando as ideias. Queria estar preparado quando o
inspetor Gaspar chegasse de Aveiro. Estava ansioso, mas tive de esperar mais
duas horas, que preenchi com passeios pelas redondezas, enchendo os olhos com a
paisagem gandaresa.
Eram
quatro horas da tarde quando ouvi o roncar do carocha.
— Então,
menino, deste conta do recado?
Na
viagem de regresso a Coimbra, apresentei-lhe o meu relatório oral e o caso
resolvido.
— A
pancada foi no parietal direito, dada por um canhoto. Alexandre é canhoto, tive
a oportunidade de o confirmar: segura a cigarrilha com a mão esquerda. A
análise ao sangue vai comprovar que o assassino é o neto do barão da Murteira.
Matou o ourives por ciúmes, para se apoderar
da pobre moça, sabe-se lá com que fins, que tem uma beleza que seduz um santo.
O
meu chefe coçou a cabeça. Comentou que estava um tempo de caca, mas desta vez
não abriu a botija de gás. Isto motivou-me para continuar com as minhas
reflexões.
— Já
viu, chefe, do que estes fidalgotes rurais são capazes? Até parece que estamos
na Idade Média. Que nojo!
Acendeu
um cigarro, expeliu o fumo demoradamente e opinou:
— Andas a ler muito, menino. Os romances vão ser a tua
perdição. Vais ter uma vida de caca.
*
O
inspetor Gaspar, instado por mim acerca do resultado da análise ao sangue,
adiava sempre uma resposta esclarecedora e convincente. Pedia-me que esquecesse
o caso, que me concentrasse na conclusão do estágio, pois já tinha a prova real
da minha competência. Ameacei-o com a desistência do curso se o culpado não
fosse incriminado. Chegou-se a mim, paternalmente, pôs o braço pesado sobre o
meu ombro, e cochichou no meu ouvido:
— Rapaz,
nesta vida, as coisas nem sempre podem ser como a gente quer. Esquece o
assunto. O caso vai ser arquivado por falta de provas. Ninguém será condenado.
Amanhã, a vida será a vida que sempre foi naquela terra.
Não
concluí o estágio para agente da Polícia de Investigação Criminal, que meses
depois passou a designar-se por Polícia Judiciária. Não queria ser um polícia
de caca. Arranjei emprego como escriturário, dediquei-me à leitura de romances
perigosos e acabei por casar com a Olinda.
Conto vencedor do Prémio Literário Idalécio Cação/2012, S. Caetano, Cantanhede.
Incluído na coletânea de contos selecionados do mesmo prémio, com o título Palavras na Areia.